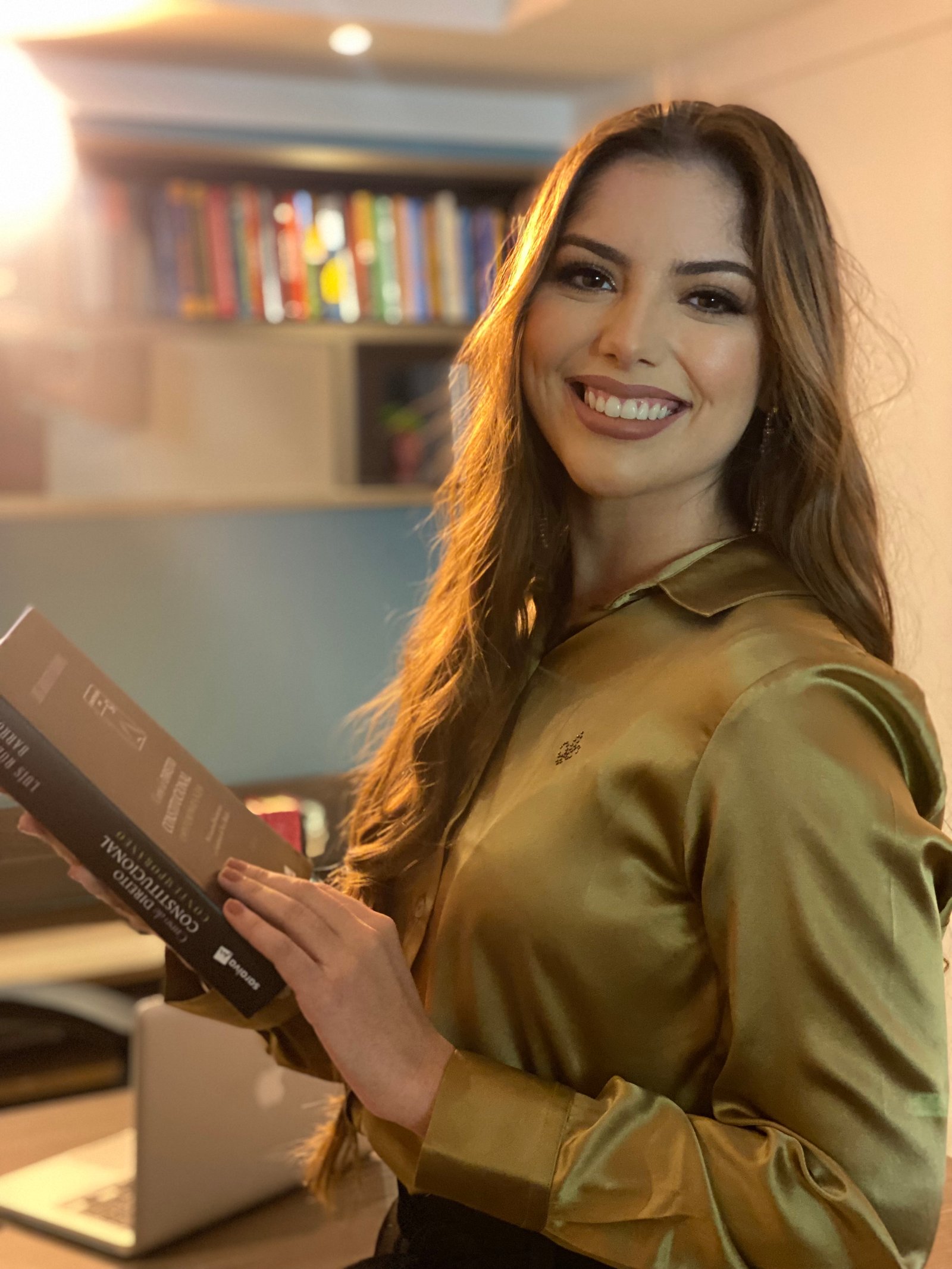Novos paradigmas de direito ambiental à luz da Opinião Consultiva nº 32 da Corte Interamericana de Direitos Humanos
Autores
Resumo
Este artigo examina como a Opinião Consultiva nº 32 da Corte Interamericana de Direitos Humanos redefine o lugar do meio ambiente no Direito, dialogando com a experiência constitucional brasileira inaugurada em 1988 e com a evolução jurisprudencial recente. Partimos do reconhecimento do meio ambiente como bem jurídico essencial e direito fundamental de terceira dimensão, percorremos sua expansão para além do aspecto físico-natural — abarcando dimensões cultural, urbana e laboral — e enfatizamos a centralidade dos povos e comunidades tradicionais na proteção dos territórios. À luz do paradigma ecocêntrico afirmado pela Corte IDH e do entendimento do STF sobre a compatibilidade entre demarcação e tutela ambiental, discutimos os deveres positivos do Estado e da sociedade em contexto de emergência climática, bem como a distinção entre direitos ambientais materiais e procedimentais (acesso à informação, participação, justiça, ciência e proteção de defensores). O objetivo é evidenciar os novos parâmetros normativos e interpretativos que vinculam políticas públicas, jurisdição e legislação, delineando as consequências práticas desse giro paradigmático para a efetividade do direito humano ao meio ambiente.
Palavras-Chave#DireitosHumanos #EmergênciaClimática #DireitoAmbiental
Abstract
This article examines how Advisory Opinion No. 32 of the Inter-American Court of Human Rights reshapes the place of the environment within Law, in dialogue with the Brazilian constitutional experience inaugurated in 1988 and recent jurisprudential developments. It begins by recognizing the environment as an essential legal asset and a third-generation fundamental right, then explores its expansion beyond the physical-natural dimension to include cultural, urban, and labor aspects, while emphasizing the central role of traditional peoples and communities in the protection of territories. In light of the ecocentric paradigm affirmed by the Inter-American Court and the Brazilian Supreme Court’s understanding of the compatibility between land demarcation and environmental protection, the study discusses the positive duties of the State and society amid the climate emergency, as well as the distinction between substantive and procedural environmental rights—such as access to information, participation, justice, science, and the protection of environmental defenders. The aim is to highlight the new normative and interpretative parameters that bind public policies, jurisdiction, and legislation, outlining the practical implications of this paradigmatic shift for the effectiveness of the human right to a healthy environment.
Keywords#HumanRights #ClimateEmergency #EnvironmentalLaw
1. INTRODUÇÃO
A questão climática e as discussões envolvendo o direito ambiental e os direitos humanos se tornam cada dia mais relevantes, notadamente com a complexificação dos fenômenos ambientais, manifestados em desastres, desemprego, pobreza e outros que não passam despercebidos pela ciência jurídica.
É certo que se caminha para reconhecer o direito ao meio ambiente adequado ou ecologicamente equilibrado como um direito autônomo, sem o qual nenhum dos demais direitos humanos e/ou fundamentais poderão ser assegurados.
Sem a pretensão de esgotar o tema, o presente artigo busca fornecer o leitor um quadro paradigmático sobre a evolução legislativa e jurisprudencial sobre a proteção ambiental, com enfoque na recente opinião consultiva nº 32 da Corte IDH.
Para tanto, primeiramente, se analisará o conceito de meio ambiente e seu paralelo com o constitucionalismo brasileiro, em especial a partir da Constituição Federal de 1988, analisando como existem múltiplas acepções sobre o tema.
Em seguida, por ser indissociável da temática da proteção dos povos originários, faz-se necessário analisar brevemente como a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado é intimamente ligada ao reconhecimento e proteção dos povos tradicionais, conforme jurisprudência da Corte IDH e do STF.
Feitas essas considerações, se analisará os principais pilares da Opinião Consultiva nº 32 da Corte IDH sobre “Emergência Climática e Direitos Humanos” que apontam as tendências para o presente e o futuro da tutela jurídica do direito ambiental.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 MEIO AMBIENTE: UM CONCEITO
O direito ao meio ambiente adequado é objeto de proteção constitucional, no art. 225 da CRFB de 1988, ao proclamar ser um bem de uso comum do povo essencial à qualidade de vida, ensejando deveres positivos por parte da sociedade civil e do Estado, a fim de preservá-lo e protegê-lo não apenas para as presentes gerações, mas também para gerações do porvir (BRASIL, 1988).
Vislumbrando-se o histórico do constitucionalismo brasileiro, MILARÉ (apud LENZA, 2025, p. 1.445) identifica que o direito ao meio ambiente sempre foi tangenciado pelas constituições de forma indireta ou reflexa, fazendo-se referência a elementos relacionados como a proteção do patrimônio cultural, paisagístico ou ainda as florestas, pesca etc.
Como bem explica SILVA (2018, pg. 866), o constituinte de 1988 promoveu um grande avanço na tutela ambiental, notadamente por reconhecer o meio ambiente como “valor preponderante, que há de estar acima de quaisquer considerações como as de desenvolvimento, como as de respeito ao direito de propriedade, como as da iniciativa privada”.
Igualmente no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, têm-se que houve uma hesitação por parte de Estados estrangeiros de adotar expressamente tal proteção em tratados internacionais, revelando um silêncio sepulcral sobre o assunto nos principais diplomas normativos, a exemplo da Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais de 1966 (RAMOS, 2025).
Por outro lado, no sistema interamericano de Direitos Humanos, a proteção ambiental como um direito humano autônomo foi prevista expressamente no Protocolo Facultativo à Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecido como Protocolo de San Salvador, em 1988:
Artigo 11
Direito ao Meio Ambiente Sadio
1. Toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a dispor dos serviços públicos básicos.
2. Os Estados-Partes promoverão a proteção, preservação e melhoramento do meio ambiente.
À luz da teoria de Karel Vasak sobre a classificação dos direitos fundamentais, o direito ao meio ambiente é entendido como um direito de terceira dimensão ou geração, compreendendo o feixe de direitos cujo destinatário primordial é o gênero humano em si mesmo (BONAVIDES, 2020).
Ainda atendo-se à conceituação deste direito, vale mencionar a contribuição da Lei nº 6.381/81 que disciplinou a política nacional do meio ambiente, em seu art. 3º, I, o conceituou como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.
Apesar de tratar especialmente do seu aspecto material, não se deve olvidar que o direito ao meio ambiente não se resume apenas ao ambiente físico natural, mas também é possível entendê-lo sob outros aspectos como sob a acepção cultural, artificial ou humano e o meio ambiente ligado ao âmbito do trabalho, conforme LENZA (2025).
No que concerne ao meio ambiente em sua dimensão cultural basta analisar os dizeres do art. 225, caput, combinado aos arts. 215 e 216 da Constituição Federal:
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
Vê-se, pois, que há uma proteção peculiar do patrimônio cultural brasileiro, especialmente daquele composto por minorias étnicas oriundas de povos tradicionais, nos moldes assentados na Convenção nº 169 da OIT, a exemplo de indígenas e povos quilombolas, como se verá a seguir.
2.2 MEIO AMBIENTE E POVOS TRADICIONAIS
No texto da Convenção nº 169 da OIT, celebrada em 1989, têm-se o seguinte conceito de povos tradicionais:
1. A presente convenção aplica-se:
a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial;
b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas.
No âmbito do ordenamento jurídico interno, têm-se a conceituação proposta pelo Dec. 6.040/2007 que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicional:
Art. 3o Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por:
I – Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;
Sobre o tema, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Supremo Tribunal Federal tem promovido uma confluência em torno da proteção de direitos fundamentais dos povos originários de forma indissociável com a proteção do meio ambiente.
Aliás, neste ponto, vale mencionar a chamada teoria da dupla afetação, segundo a qual a proteção e respeito aos modos de vida e relações territoriais de povos tradicionais não exclui a proteção ao meio ambiente, ao revés, se complementando. Assim, é relevante pontuar que o STF, no Caso Raposa do Sol, já reconheceu esse fenômeno:
“O momento é propício para remarcar a perfeita compatibilidade entre meio ambiente e terras indígenas, ainda que estas envolvam áreas de ‘conservação’ e ‘preservação’ ambiental, pois o fato é que a Constituição dá por suposto o que dissemos um pouco mais atrás: índios e meio ambiente mantêm entre si uma natural relação de unha e carne. Não são como óleo e água, que não se misturam. Com o que de pronto ressai a seguinte compreensão das coisas: mais que uma simples relação de compatibilidade, o vínculo entre meio ambiente e demarcação de terras indígenas é de ortodoxa pertinência. Razão pela qual o decreto homologatório das Terras Indígenas Raposa-Serra do Sol (antecipo o juízo) é inclusivo do Parque Nacional do Monte Roraima, conferindo-lhe, redundantemente, aliás, uma dupla afetação: a ecológica e a propriamente indígena.” (Pet 3388 / RR, Min. CARLOS BRITTO, 19/03/2009 – caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol.)
Por outro lado, na Corte IDH, no caso Povos Kalinã e Lokono vs. Suriname, julgado em 2015, o órgão reconheceu a necessidade de proteção ambiental de territórios não apenas no seu viés biológico, mas também na sua dimensão sociocultural. Senão, vejamos:
173. A Corte considera relevante fazer referência à necessidade de compatibilizar o cuidado das áreas protegidas com o adequado uso e gozo dos territórios tradicionais dos povos indígenas. Nesse sentido, a Corte estima que uma área protegida consiste não somente na dimensão biológica, mas também na sociocultural, e que, portanto, incorpora um enfoque interdisciplinar e participativo. Nesse sentido, os povos indígenas, em geral, podem desempenhar um papel relevante na conservação da natureza, dado que certos usos tradicionais implicam práticas de sustentabilidade e são considerados fundamentais para a eficácia das estratégias de conservação. Por esse motivo, o respeito aos direitos dos povos indígenas pode exercer ação positiva na conservação do meio ambiente. Desse modo, o direito dos povos indígenas e as normas internacionais de meio ambiente devem ser compreendidos como direitos complementares e não excludentes. 181. Considerando o exposto, a Corte reitera que, em princípio, existe compatibilidade entre as áreas naturais protegidas e o direito dos povos indígenas e tribais ao cuidado dos recursos naturais em seus territórios, destacando que os povos indígenas e tribais, por sua inter-relação com a natureza e formas de vida, podem contribuir de maneira relevante para essa conservação. Nesse sentido, os critérios de a) participação efetiva; b) acesso e uso de seus territórios tradicionais; e c) recebimento de benefícios da conservação — todos eles, desde que sejam compatíveis com a proteção e utilização sustentável — […] são elementos fundamentais para alcançar essa compatibilidade, a qual deve ser avaliada pelo Estado. Por conseguinte, é necessário que o Estado disponha de mecanismos adequados para a implementação desses critérios como parte da garantia dos povos indígenas e M 98 11 POVOS INDÍGENAS E TRIBAIS tribais a sua vida digna e a sua identidade cultural, em relação à proteção dos recursos naturais que se encontrem em seus territórios tradicionais. […] (Corte IDH, 2022, ps. 97 e 98)
Ainda à luz de um diálogo de cortes, o STF, em 2023, no julgamento paradigmático do Tema 1.031 adotou uma postura mais protetiva e, porque não dizer uma “interpretação pro persona”, a respeito do meio ambiente e proteção dos povos indígenas. Na ocasião do julgamento do RE 1.017.365/SC, o Plenário da Corte votou pelo afastamento da denominada “teoria do marco temporal” quanto ao parâmetro de demarcação de terras indígenas, privilegiando-se a teoria do indigenato, segundo a qual o reconhecimento do direito de usufruto da terra por estes povos originários independe de qualquer condicionamento temporal:
“I – A demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena;
II – A posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas, nas utilizadas para suas atividades produtivas, nas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e nas necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do § 1o do artigo 231 do texto constitucional;
III – A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 05 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição;
IV – Existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias, previsto no § 6o do art. 231 da CF/88;
V – Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis, pela União; e, quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles indenização pela União (com direito de regresso em face do ente federativo que titulou a área) correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada em autos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento imediato da parte incontroversa, garantido o direito de retenção até o pagamento do valor incontroverso, permitidos a autocomposição e o regime do § 6o do art. 37 da CF;
VI – Descabe indenização em casos já pacificados, decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, ressalvados os casos judicializados e em andamento;
VII – É dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas somente diante da absoluta impossibilidade de concretização da ordem constitucional de demarcação, devendo ser ouvida, em todo caso, a comunidade indígena, buscando-se, se necessário, a autocomposição entre os respectivos entes federativos para a identificação das terras necessárias à formação das áreas reservadas, tendo sempre em vista a busca do interesse público e a paz social, bem como a proporcional compensação às comunidades indígenas (art. 16.4 da Convenção 169 OIT);
VIII – A instauração de procedimento de redimensionamento de terra indígena não é vedada em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República, por meio de pedido de revisão do procedimento demarcatório apresentado até o prazo de cinco anos da demarcação anterior, sendo necessário comprovar grave e insanável erro na condução do procedimento administrativo ou na definição dos limites da terra indígena, ressalvadas as ações judiciais em curso e os pedidos de revisão já instaurados até a data de conclusão deste julgamento;
IX – O laudo antropológico realizado nos termos do Decreto no 1.775/1996 é um dos elementos fundamentais para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena determinada, de acordo com seus usos, costumes e tradições, na forma do instrumento normativo citado;
X – As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes;
XI – As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis;
XII – A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurado o exercício das atividades tradicionais dos povos indígenas;
XIII – Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei.” STF. Plenário. RE 1.017.365/SC, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/9/2023 (Repercussão Geral – Tema 1.031) (Info 1110).
A despeito da importância dessas decisões, é certo que sua efetividade e implementação encontra-se corriqueiramente ameaçada por pressões políticas e econômicas que buscam minar os avanços na proteção ambiental. Exemplo disto, foi a imediata aprovação da Lei nº 14.701 de 2023, pelo Congresso Nacional, após o julgamento do STF, que alterou a redação do art. 2º, IX, da Lei nº 6.001/1937 (Estatuto do Índio), prevendo a necessidade de comprovação da posse das terras no dia 05 de outubro de 1988 para a garantia da demarcação.
2.3 OPINIÃO CONSULTIVA Nº 32 DA CORTE INTERAMERICANA
Em que pese o contexto geopolítico em 2025 seja considerado, no mínimo, turbulento no espectro internacional, isto é, marcado conflitos humanitários e guerras econômicas, deve-se destacar a importância do recente parecer nº 32 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, denominado “Emergência Climática e Direitos Humanos”.
O referido parecer foi requerido pelos Estados do Chile e da Colômbia, a fim de que a Corte IDH esmiuçasse as obrigações ambientais dos Estados. As conclusões da Corte reforçam não apenas a autonomia do direito humano ao meio ambiente adequado, já reconhecido na Opinião Consultiva nº 23 de 2017, mas revelam a ampliação dos standards de proteção no contexto de emergência climática.
Portanto, faz necessário de antemão entender qual a percepção da Corte IDH a respeito do conceito de emergência climática:
42. A emergência climática insere-se no contexto mais amplo da chamada “tripla crise planetária”, gerada pela interrelação e retroalimentação de três fenômenos coincidentes: a mudança climática, a poluição e a perda de biodiversidade. Essa crise tripla “ameaça o bem-estar e a sobrevivência de milhões de pessoas em todo o mundo”. Atendendo aos termos da consulta, a Corte concentrará sua análise na emergência diretamente relacionada à mudança climática, sem, porém, perder de vista o contexto da tripla crise em que ela se insere. (CORTE IDH, 2025, pg. 16).
A partir da leitura do tema a partir da proposta epistêmica tratada pela Corte IDH, percebe-se que a emergência climática é um fenômeno multifatorial que implica não só a mudança climática em si, mas a forma com que seus impactos são sentidos na biodiversidade e ecossistemas, inclusive sob os aspectos sociais e culturais.
Ademais, segundo a Corte IDH, a própria Natureza ou meio natural deve ser entendida como sujeito de direitos por si só, o que indica a tendência de promoção do chamado modelo ecocêntrico ou biocêntrico (não antropocêntrico).
Segundo Ramos (2025, p. 1.004), este modelo é aquele “que vê o ser humano como parte da natureza, não existindo segregação entre os seres vivos (humanos e não humanos) e os seres inanimados que compõe o ecossistema da terra”.
Na literalidade do parecer, a Corte IDH esclareceu que
279. (…) O reconhecimento do direito da Natureza de manter seus processos ecológicos essenciais contribui para consolidar um modelo de desenvolvimento verdadeiramente sustentável, que respeite os limites planetários e garanta a disponibilidade de recursos vitais para as gerações presentes e futuras. Avançar no sentido de um paradigma que reconheça direitos próprios aos ecossistemas é fundamental para proteger sua integridade e funcionalidade a longo prazo, fornecendo instrumentos jurídicos coerentes e eficazes diante da crise planetária, de modo a prevenir danos existenciais antes que se tornem irreversíveis.
280. Esse reconhecimento permite superar concepções jurídicas herdadas, que concebiam a Natureza exclusivamente como objeto de propriedade ou recurso explorável. Reconhecer a Natureza como sujeito de direitos implica também visibilizar seu papel estrutural no equilíbrio vital das condições que permitem a habitabilidade do planeta. Essa abordagem fortalece um paradigma centrado na proteção das condições ecológicas essenciais à vida e empodera comunidades locais e povos indígenas, que historicamente têm sido guardiões dos ecossistemas e detêm profundos conhecimentos tradicionais sobre seu funcionamento.
Outro ponto crucial trazido pela Opinião Consultiva nº 32, diz respeito ao reconhecimento da necessidade de proteção diferenciada a determinados grupos, uma vez que a emergência climática é sentida de forma desproporcional pelos indivíduos, a depender de marcadores de vulnerabilidade:
595. A forma como os diferentes fatores de vulnerabilidade determina a magnitude dos riscos gerados pela mudança climática varia de acordo com as circunstâncias de cada Estado e de sua população. (…) (Corte IDH, 2025, p. 207)
Um dos grupos que exigem tão proteção reforçada diz respeito às crianças e adolescentes, notadamente, seja em razão da fragilidade de sua estrutura fisiológica e desenvolvimento biológico incompleto para enfrentar condições climáticas extremas, seja em função de outras interseccionalidades apontadas pela Corte IDH – crianças em situação de rua, migração, pertencente a comunidades tradicionais etc.(Corte IDH, 2025).
No mais, no referido documento ainda se consolida a clássica distinção entre direitos ambientais substanciais e procedimentais. Estes primeiros são aqueles afetados diretamente pela mudança climática, como o direito à vida, à integridade física, à propriedade etc. Por outro lado, os direitos procedimentais, segundo Ramos (2025, p. 1.008) têm o objetivo de garantir políticas públicas ambientais adequadas, de sorte que a Corte exemplificou nesta categoria, os seguintes direitos:
(…) Assim, o Tribunal analisará o alcance das obrigações estatais em matéria de: (C.2) direito à ciência e ao reconhecimento dos saberes locais, tradicionais e indígenas; (C.3) acesso à informação; (C.4) participação política; (C.5) acesso à justiça; e o (C.6) direito de defender direitos humanos. (Corte IDH, 2025, p. 161).
Eis, portanto, o caráter interdependente do direito ao meio ambiente adequado que se pode manifestar em conjunto com outros direitos humanos igualmente essenciais à consecução de uma vida digna.
É certo que o referido documento ainda propõe inúmeras teses paradigmáticas a respeito do tema, entretanto, o presente trabalho visa analisar a perspectiva geral elencada pela Corte IDH na OC nº 32, que já dão a tônica das obrigações dos estados e da sociedade globalizada sobre a necessidade de garantia do direito humano ao meio ambiente.
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, evidencia-se que a proteção ambiental deixou de ser mero apêndice de outras agendas para ocupar lugar central no constitucionalismo brasileiro e no sistema interamericano. A Opinião Consultiva nº 32 consolida um giro teórico-prático: afirma o caráter autônomo do direito ao meio ambiente e projeta um paradigma ecocêntrico, no qual os ecossistemas e os modos de vida de povos e comunidades tradicionais integram o núcleo de tutela. Em diálogo com a jurisprudência do STF, reforça-se a compatibilidade estrutural entre a proteção territorial indígena e a conservação ambiental, deslocando o foco para deveres estatais e sociais qualificáveis e verificáveis.
Esse redesenho normativo traz consequências operativas: políticas públicas devem internalizar obrigações de prevenção, participação informada, acesso à justiça e proteção de defensores, com recorte especial para grupos em situação de vulnerabilidade — crianças e adolescentes, populações em mobilidade, comunidades tradicionais. Diante de resistências legislativas e pressões econômicas que ameaçam a efetividade dos avanços, impõe-se uma implementação baseada em evidências científicas, governança multiescalar e controle jurisdicional consequente, orientados pela justiça climática e pela solidariedade intergeracional. Em suma, a OC 32 oferece importantes balizas normativas para transitar do reconhecimento retórico à concretização do direito humano ao meio ambiente, parâmetro sem o qual os demais direitos não se sustentam no presente nem no futuro.
REFERÊNCIAS
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 35. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2020.
BRASIL. Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019. Anexo LXXII. Convenção nº 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais (adotada em Genebra, em 27 de junho de 1989; aprovada pelo Decreto Legislativo nº 143, de 20 de junho de 2002; depositado o instrumento de ratificação junto ao Diretor Executivo da OIT em 25 de julho de 2002; entrada em vigor internacional em 5 de setembro de 1991 e, para o Brasil, em 25 de julho de 2003, nos termos de seu art. 38; e promulgada em 19 de abril de 2004).
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Cadernos de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: concretizando direitos humanos – direito dos povos indígenas. Brasília: STF; CNJ, 2023.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pet 3388/RR, Rel. Min. Carlos Britto, julgado em 19 mar. 2009 (caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol).
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 1.017.365/SC, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27 set. 2023 (Repercussão Geral – Tema 1.031).
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caderno de Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos nº 11: povos indígenas e tribais. San José, Costa Rica: Corte IDH, 2022. Tradução de María Helena Rangel.
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Opinião Consultiva nº 23. San José, Costa Rica, 2017. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf
. Acesso em: [18/10/2025]
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Opinião Consultiva nº 32. San José, Costa Rica, 2025. Disponível em: https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/pt_br/vid/1084981967
. Acesso em: [17/10/2025].
LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 29. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2025.
RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 12. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 41. ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional n. 99, de 14 dez. 2017. São Paulo: Malheiros, 2018.
Como citar este texto (NBR 6023:2018 ABNT)
MARQUES, Lara Theresa M. C. Nogueira. Novos paradigmas de direito ambiental à luz da Opinião Consultiva nº 32 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Revista Di Fatto, Ciências Humanas, Direito, ISSN 2966-4527, DOI 10.5281/zenodo.17397517, Joinville-SC, ano 2025, n. 5, aprovado e publicado em 20/10/2025. Disponível em: https://revistadifatto.com.br/artigos/novos-paradigmas-de-direito-ambiental-a-luz-da-opiniao-consultiva-no-32-da-corte-interamericana-de-direitos-humanos-2/. Acesso em: 01/02/2026.