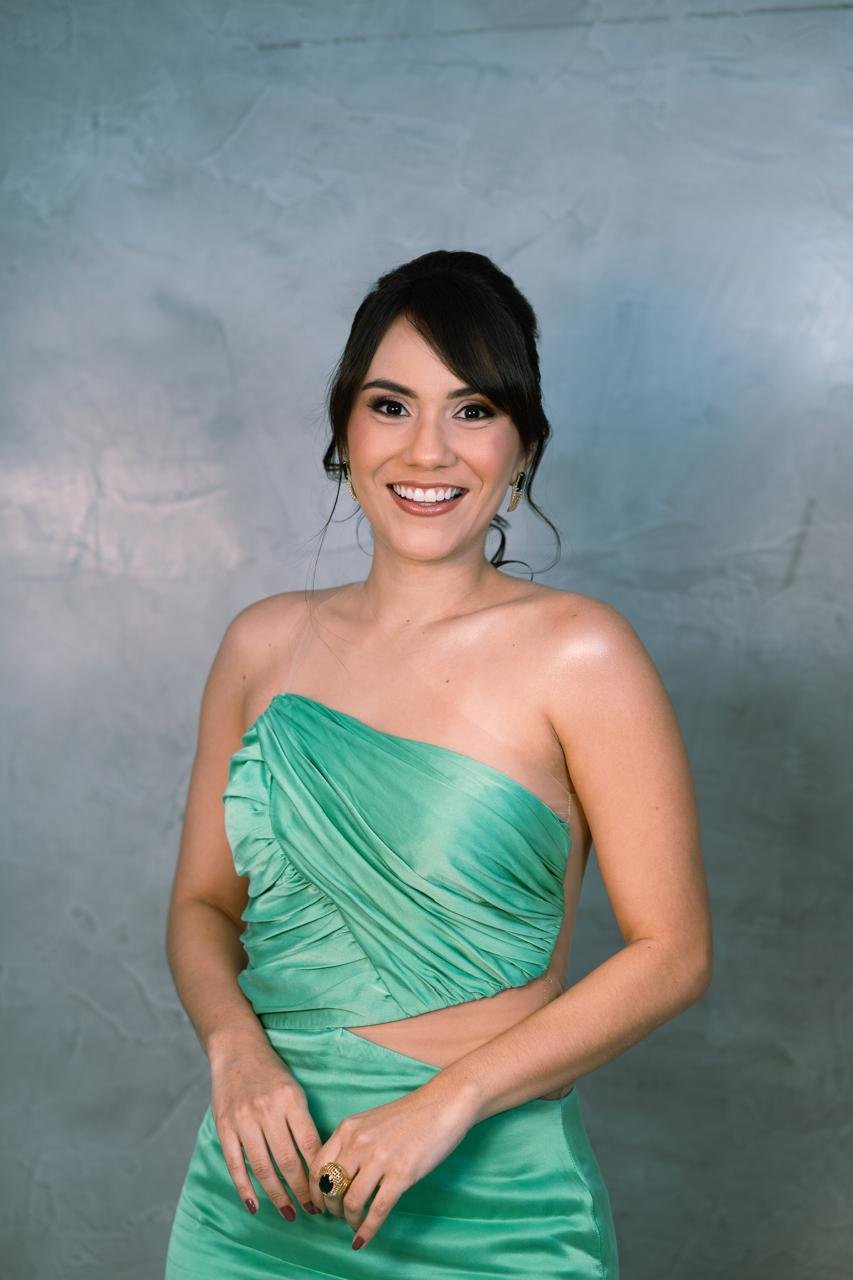(Im)possibilidade da usucapião de bens públicos sem função social
Autores
Resumo
O estudo examina a possibilidade de usucapião de bens públicos que não cumprem sua função social. Embora a Constituição proíba este tipo de usucapião, o trabalho propõe uma releitura dos dispositivos legais à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade. A partir de caso concreto envolvendo ocupação de área pública por famílias em situação de vulnerabilidade, defende-se que, de forma excepcional e mediante critérios objetivos, a usucapião de bens públicos dominicais sem destinação social pode ser admitida como instrumento de justiça social e promoção da moradia digna.
Palavras-ChaveUsucapião. Função social da propriedade. Dignidade da pessoa humana. Imóveis públicos. Direitos fundamentais. Ponderação de princípios. Moradia.
Abstract
This study examines the possibility of applying adverse possession to public property that fails to fulfill its social function. Although the Brazilian Constitution expressly prohibits the adverse possession of public assets, the paper proposes a reinterpretation of legal provisions based on the principles of human dignity and the social function of property. Drawing on a real case involving the occupation of public land by vulnerable families, it argues that, exceptionally and under objective criteria, adverse possession of unused public property may serve as a legal tool for promoting social justice and ensuring access to adequate housing.
KeywordsAdverse possession. Social function of property .Human dignity. Public property. Fundamental rights. Balancing of principles. Housing
Rafaela Jorge Bordalo Mendonça
(IM)POSSIBILIDADE DA USUCAPIÃO DE BENS PÚBLICOS SEM FUNÇÃO SOCIAL
Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em Direito Civil como requisito parcial à obtenção do título de especialista.
São Luís
2019
INTRODUÇÃO
A usucapião constitui uma situação de aquisição do domínio, ou mesmo de outro direito real, pela posse prolongada. Assim, permite a lei que uma determinada situação de fato alongada por certo intervalo de tempo se transforme em uma situação jurídica (a aquisição originária da propriedade) (RIBEIRO , 2006, p. 169-172).
Por um lado, a Constituição Federal admite a usucapião em seu artigo 183, quando atendidos seus requisitos, e por outro, veda expressamente a possibilidade de usucapião dos imóveis públicos no § 3º do mesmo dispositivo e no art. 191, parágrafo único.
Desse modo, indaga-se qual o limite dessa vedação, tendo em vista que a própria Carta Magna institui que a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III). Além disso, aduz em seu art. 5º, XXIII, que dispõe acerca dos direitos e garantias fundamentais, que a propriedade atenderá a sua função social.
Assim, no conflito entre proteção do patrimônio público e a efetivação da função social dos bens públicos e da dignidade humana, qual a melhor posição a ser adotada pelos tribunais?
Nesse sentido, traz-se à tona a análise do caso em que uma grande área pertencente a um Município de Minas Gerais foi invadida por aproximadamente três mil famílias. Passado um vasto lapso temporal, essas famílias se estabeleceram nesse imóvel, até que um novo Prefeito fez menção de retirá-las. Em sua defesa, as famílias alegaram que aquela área nunca havia cumprido a sua função social e que, mesmo sendo pública, a área poderia ser usucapida.
Destarte, o presente estudo busca, com base nos fundamentos jurídicos da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana analisar a possibilidade ou não do instituto da usucapião de bens públicos que não cumprem sua função social, a partir do caso supramencionado. E, no caso de colisão entre institutos jurídicos, utilizar-se-á o método da ponderação, devendo prevalecer o de maior densidade.
1. USUCAPIÃO
1.1 CONCEITO
A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, mediante o exercício da posse pacífica e contínua, durante certo período de tempo previsto em lei. Trata-se de uma forma de prescrição aquisitiva (GAGLIANO, 2018, p. 844).
Ou seja, é um dos principais efeitos da posse prolongada, na qual a situação fática do possuidor é transformada em situação jurídica de proprietário. Os fundamentos da usucapião são a necessidade de segurança jurídica e a observância da função social. Nesse sentido, assevera Nelson Rosenvald E Cristiano Chaves (2017, p. 394):
“O fundamento da usucapião é a consolidação da propriedade. O proprietário desidioso, que não cuida de seu patrimônio deve ser privado da coisa, em favor daquele que, unindo posse e tempo, deseja consolidar e pacificar sua situação perante o bem e a sociedade.”
Conclui-se, assim, que para que a usucapião seja configurada é necessária a conjugação de três pressupostos: posse, tempo e intenção de ser proprietário.
1.2 MODALIDADES
Inúmeras são as hipóteses de usucapião. Aqui, serão apenas citadas algumas delas: usucapião extraordinária, usucapião ordinária, usucapião constitucional (ou especial) rural ou pro labore, usucapião constitucional (ou especial) urbana ou pro misero (art. 183 da CRFB/88; art. 1.240 do CC; art. 9º do Estatuto da Cidade), usucapião especial urbana coletiva (art. 10 do Estatuto da Cidade), usucapião rural coletiva (art. 1.228, §§ 4º e 5º, do CC), usucapião familiar (art. 1.240-A do CC), dentre outras.
Em todas essas modalidades, é notória a ênfase que se dá à moradia e (ou) trabalho. Na usucapião extraordinária e na ordinária, inclusive, o tempo para aquisição da propriedade é diminuído em caso de terem estabelecido sua moradia e/ou trabalho no imóvel. Esse aspecto socioeconômico, chamado de posse-trabalho é um dos requisitos de reconhecimento em algumas modalidades de usucapião.
Além disso, exige-se como pressuposto que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Logo, esse instituto busca diminuir as desigualdades sociais, propiciando moradia e trabalho para quem ainda não tem, através de um imóvel, essa oportunidade.
Para o presente estudo, merece destaque a usucapião especial urbana coletiva. Nesta, o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) disciplina uma interessante forma de usucapião, decorrente da posse coletiva em área urbana:
“Art. 10. As áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural.
§ 1º O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. § 2º A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis.”
O legislador, brilhantemente, buscou dar acesso à moradia à população de baixa renda, quando ocuparem área urbana com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados, por no mínimo cinco anos e sem oposição. Dessa forma, é concedida a propriedade também de forma coletiva.
Vislumbra-se, pois, a importância dessa usucapião pela similitude da situação proposta nesse trabalho, em que inúmeras famílias ocuparam uma área extensa pertencente ao poder público, coletivamente.
No entanto, vale ressaltar que há vedação expressa da usucapião de imóveis públicos no art. 183, § 3º da Constituição Federal. Embora seja essa a regra geral, há ponderações a serem feitas de forma a se flexibilizar esse dispositivo, em uma interpretação em conjunto com os demais preceitos previstos no mesmo patamar constitucional, como serão explicitadas nos capítulos seguintes.
2. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE COMO DIREITO E GARANTIA FUNDAMENTAL
2.1 CONCEITOS
Inicialmente, cumpre-se diferenciar os conceitos de posse e propriedade, para posteriormente se compreender o conceito da função social da propriedade e o que ela representa no ordenamento jurídico.
A posse significa ter a disposição da coisa, utilizando-se dela e tirando-lhe os frutos, com fins socioeconômicos (TARTUCE, 2005, p. 04). Já a propriedade consiste no domínio da coisa. Como assevera o Código Civil, no art. 1.228, caput, a propriedade é o direito que a pessoa tem de usar, gozar, dispor da coisa ou reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha.
Nessa esteira, a propriedade deve ser interpretada segundo sua função social, conforme consubstancia a Constituição Federal e o Código Civil. Topograficamente, e não à toa, a propriedade está elencada no rol de direitos e garantias fundamentais na Constituição, que impõe o atendimento a sua função social. Percebe-se, dessa maneira, a importância desse direito e da forma como ele deve ser exercido.
Ademais, a função social da propriedade é tratada como um dos princípios gerais da atividade econômica. Esta, por sua vez, funda-se na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Ou seja, a função social está diretamente relacionada ao trabalho, a dignidade humana e a redução das desigualdades sociais.
No capítulo referente à política agrícola, fundiária e reforma agrária, são dispostos os requisitos para que seja considerada cumprida a função social do imóvel. De acordo com o art. 186, da CRFB/88:
“A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
I – aproveitamento racional e adequado;
II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.”
Mais uma vez, a função social da propriedade está atrelada a questões socioambientais. Isso porque deve-se observar o uso racional da propriedade, pensando-se nas gerações futuras, com a preservação do meio ambiente, e também na observância das normas trabalhistas, de maneira a propiciar o bem-estar dos trabalhadores.
A função social da propriedade, para Cristiano Rodrigues e Nelson Rosenvald (2017, p. 315), pode ser conceituada como uma necessidade de atuação promocional por parte do proprietário, pautada no estímulo a obrigações de fazer, consistentes em implementação de medidas hábeis a impulsionar a exploração racional do bem, com a finalidade de satisfazer os seus anseios econômicos sem aviltar as demandas coletivas, promovendo o desenvolvimento econômico e social de modo a alcançar o valor supremo no ordenamento jurídico: a Justiça.
Não se trata, pois, de um mero princípio. Ao contrário, com a reconstitucionalização que sobreveio a II Guerra Mundial, houve o reconhecimento da força normativa da Constituição (BARROSO, 2013, p. 402). Isso significa que suas disposições são de observância obrigatória, e inúmeros são os artigos que se remetem à função social da propriedade ao longo do texto constitucional. Merece, portanto, que seja devidamente respeitada.
2.2 ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
Com o advento do neoconstitucionalismo, pode-se dizer que houve uma superação da dicotomia entre direito público e direito privado, antes alvo de importantes discussões e controvérsias. No atual contexto, afirma-se que pode haver preponderância de um interesse sobre outro, mas não que há exclusividade de apenas um deles.
Melhor explicando, existe uma diferenciação dentro do próprio conceito de interesse público, já que há o interesse público primário, que é aquele pautado nos interesses da sociedade, como a justiça, o bem-estar e a segurança, dentre outros. Mas existe também o interesse público secundário, que se caracteriza pelo interesse da pessoa jurídica de direito público (União, Estados e Municípios) (BARROSO, 2013, p. 402).
Traçada essa diferenciação, é possível entender que nem todo tipo de interesse público estará numa posição de superioridade em relação aos interesses privados. Conforme leciona Luís Roberto Barroso (2013, p. 402):
“É que o interesse público secundário, que diz respeito à Fazenda Pública, não possui uma supremacia em relação ao interesse particular, pelo menos não inicialmente. Para isso, é necessário que seja feita uma análise pelo intérprete para ponderar os interesses em jogo.”
A partir dessa compreensão, percebe-se que quando o interesse do Estado é meramente patrimonial a análise deve ser atenta. Isso ocorre porque o fato de não haver finalidade pública nem destinação social ao interesse patrimonial do Estado, a princípio, esse interesse deve ser tratado como interesse público secundário. Assim, não se deve acobertá-lo de garantias que o coloquem em situação de superioridade em relação ao interesse privado, cabendo ao magistrado fazer a análise do caso concreto.
Nesse contexto, é imperioso diferenciar os bens materialmente públicos daqueles que são apenas formalmente públicos. Em uma discussão acerca da concessão de direito real de uso para fins de moradia, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2017, p. 926) trazem uma importante distinção entre os bens públicos, que merece ser transcrita:
Nada obstante, na senda da MP 2.220/01, que instituiu a concessão de direito real de uso para fins de moradia, cremos que o terreno público dominicial – abandonado ou devoluto – que não recebe utilização e não cumpre a sua destinação, não pode servir de meio de exclusão de acesso à moradia. O bem é formalmente público, mas não materialmente público, eis que carecedor de função social. O titular do direito subjetivo à moradia pode invocá-la contra o Estado, como contra qualquer particular. Não é crível supor que nos dias atuais prevaleça o axioma da “superioridade do interesse público sobre o privado”, quando bens públicos são privados de legitimidade e merecimento por não serem direcionados a sua missão constitucional de prover o bem comum.
Pode-se entender, dessa maneira, que os imóveis públicos que merecem proteção constitucional especial, não podendo ser usucapidos, são aqueles materialmente públicos. Ou seja, aqueles que cumprem sua função social, visto que há interesse da sociedade que eles continuem pertencendo ao Estado para trazer benefícios à coletividade.
Em sentido contrário, os imóveis que são apenas formalmente públicos não gozam da mesma proteção. Há razão esse entendimento, visto que esses imóveis pertencem ao Poder Público, e por isso a denominação de imóvel público (no sentindo de sua titularidade), mas não cumprem nenhuma função social. Não há, pois, interesse social na permanência da titularidade do poder público, já que não promove o bem comum.
Não se pode olvidar que o art. 5º da CRFB/88 dispõe que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos dispostos em seus incisos, dentre eles o inciso XXIII, com o seguinte conteúdo: a propriedade atenderá a sua função social.
Desse modo, a função social da propriedade como direito e garantia do indivíduo e da coletividade está vinculando apenas o particular? Ou ao poder público também incumbe dar destinação aos bens que pertencem seu patrimônio? Acredita-se que ambos estão subordinados a esse mandamento constitucional, sob pena de sofrer as consequências da sua omissão.
O poder público, tanto quanto o particular, deve atender a função social de seus imóveis para que seja promovida a justiça e reduzida a desigualdade social. Se não fosse assim, o Estado poderia ser um acumulador de riquezas através de propriedade de inúmeros imóveis. Em uma República Democrática de Direito, destaca-se, isso é inconcebível, e não esses os objetivos dispostos na atual Carta Política.
Nesse sentido, tem-se a o entendimento do autor Flávio Tartuce (2016, p. 1.115), em que afirma ser aplicável o princípio da função social da propriedade também aos bens públicos:
“A tese da usucapião de bens públicos é sedutora, merecendo a adesão deste autor. Para tanto, deve-se levar em conta o princípio da função social da propriedade, plenamente aplicável aos bens públicos, como bem defendeu Silvio Ferreira da Rocha, em sua tese de livre-docência perante a PUCSP. Clama-se pela alteração do Texto Maior, até porque, muitas vezes, o Estado não atende a tal regramento fundamental ao exercer o seu domínio. Como passo inicial para essa mudança de paradigmas, é importante flexibilizar o que consta da CF/1988.”
Portanto, a função social da propriedade também deve ser observada pelo Poder Público em relação aos seus imóveis sob pena de abuso de direito. A preocupação deve estar pautada, principalmente, na promoção da dignidade humana, e não apenas no patrimônio, conforme será visto.
3. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da ordem jurídica brasileira, de acordo com o que institui o art. 1º, inciso III, da Constituição da República. Pode ser considerado o mais importante dos princípios, em razão de ser a base de todos os outros direitos materialmente fundamentais.
Tanto é assim, que no direito internacional a dignidade da pessoa humana é considerada fundamento dos direitos humanos. Os dois mais importantes tratados sobre direitos humanos da ONU, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Sociais Econômicos e Culturais, em seus preâmbulos, já afirmam que os direitos ali descritos “decorrem da dignidade inerente à pessoa humana”.
Para Ingo Sarlet (2015, p.70), a dignidade da pessoa humana pode ser assim compreendida:
“…temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida”.
Quando se fala em garantir condições existenciais mínimas para uma vida saudável, pensa-se na efetivação dos direitos e garantias fundamentais insculpidos na Constituição. Logo, uma vida digna requer educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, além da liberdade, igualdade, segurança e propriedade.
Com esse entendimento sobre a dignidade humana, passa-se a analisar as funções exercidas por esse princípio tão importante e tão vasto. Daniel Sarmento (2016, p. 77). cita como funções mais relevantes desse princípio: o fator de legitimação do Estado e do Direito, norte para a hermenêutica jurídica, diretriz para ponderação entre interesses colidentes, fator de limitação de direitos fundamentais, parâmetro para o controle de validade de atos estatais e particulares, critério para identificação de direitos fundamentais e fonte de direitos não enumerados.
Nesse diapasão, o conflito aparente entre as normas deve ser resolvido tendo como norte a promoção da dignidade da pessoa humana. Se a República Federativa tem como fundamento a dignidade humana e ao mesmo tempo proíbe a usucapião de imóveis públicos, esta vedação deve ser reinterpretada, para que sejam imunes apenas os imóveis materialmente públicos, com função social. Dessa maneira, dá-se efetividade àquilo que fundamenta o Estado: a dignidade da pessoa humana.
É claro, como ainda não é o posicionamento jurisprudencial, e não há legislação que a regulamente, deve-se ter cautela. Assim, é imperativo que haja proporcionalidade e razoabilidade na análise do caso concreto, com aferição através de critérios objetivos, utilizando-se inclusive os parâmetros de outras espécies de usucapião, como tempo prologando de posse por população de baixa renda, utilização do imóvel para moradia e trabalho e não possuir outro imóvel urbano ou rural. Além disso, é importante que haja a participação, no processo, dos órgãos públicos que têm interesse na causa.
A dignidade humana, portanto, é diretriz para ponderação de interesses conflitantes. E, na análise da possibilidade de usucapião de bens públicos, demonstra ser um instrumento de extrema relevância para a promoção do bem comum e da diminuição das desigualdades sociais, que é inclusive um dos objetivos do Estado.
4. CASO CONCRETO
Uma grande área pertencente a um Município de Minas Gerais foi invadida por aproximadamente 3.000 famílias. Lá elas se estabeleceram e permaneceram por vários anos, até que um novo Prefeito fez menção de retirá-las. Em sua defesa, as famílias alegaram que aquela área nunca havia cumprido a sua função social e que, mesmo sendo pública, a área poderia ser usucapida.
A defesa poderá ser considerada plausível desde que demonstrem cumprirem os requisitos da usucapião. Para isso, devem se valer dos parâmetros estabelecidos pela usucapião especial urbana coletiva, devido ao elevado número de famílias, de forma a adquirirem a propriedade coletivamente.
Assim, precisarão juntar à petição prova da posse prolongada naquela propriedade, por no mínimo cinco anos ininterruptos e sem oposição, além da prova de sua renda, que não poderá ultrapassar o que se considera como baixa renda. Ademais, deverão demonstrar a ausência de função social anterior à posse, para que o imóvel seja caracterizado como um bem apenas formalmente público, mas não materialmente. E que carecem de outra posse, seja urbana ou rural, pois nesse imóvel é que fazem sua moradia.
Referido pedido deve ser feito, com fundamento no princípio da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que o Estado brasileiro não pode ficar inerte em relação aos seus bens imóveis, sem lhes dar destinação. E com o reconhecimento da propriedade através da usucapião por aquelas quase três mil famílias, o imóvel estará cumprindo sua função social, permitindo a efetivação da dignidade humana, proporcionando a moradia a todos eles.
É certo que esse não é o entendimento jurisprudencial predominante, e poderá haver obstáculo para o reconhecimento da usucapião. Mas com os fundamentos supracitados, aliados ao princípio da razoabilidade, o Poder Judiciário deverá enfrentar o caso concreto com bastante cautela, sob pena de não efetivar a verdadeira justiça que se espera.
Por tudo o que foi dito, e pautando-se no fato de que a moradia é um dos direitos sociais que conferem dignidade às pessoas, bem como os imóveis, a médio e longo prazo devem cumprir sua função social, é necessária uma atuação mais moderna por parte do Judiciário, baseando-se em uma releitura constitucional.
5. CONCLUSÃO
A usucapião, como instituto jurídico que confere aquisição da propriedade pelo decurso do tempo, é um importante instrumento para efetivação da função social da propriedade. Esta, que como foi visto ao longo do trabalho, é um direito e uma garantia fundamental dos indivíduos.
No que concerne à possibilidade de usucapir imóveis públicos, constata-se que a regra é a impossibilidade. Contudo, é necessária uma reinterpretação do ordenamento jurídico, e dos próprios dispositivos constitucionais. Assim, a efetivação da função social da propriedade e a promoção da dignidade humana são nortes para dirimir esse conflito aparente.
É importante que seja ponderado, no caso concreto, até que ponto o Estado pode permanecer com bens dominicais-aqueles sem destinação social, enquanto inúmeras famílias carecem de moradia, trabalho, ficando à margem da sociedade e vivendo sem dignidade nenhuma. Considerando ainda que a dignidade humana é um dos fundamentos da República, além da redução das desigualdades sociais ser um objetivo perseguido pelo Estado.
Não se quer defender, aqui, a usucapião de todo e qualquer imóvel público. Frisa-se, apenas aqueles que são formalmente públicos, de titularidade do Estado, mas que não possui nenhuma finalidade voltada à sociedade. Ou seja, apenas de forma excepcional, e atendendo a critérios objetivos, como por exemplo, para propiciar moradia à população de baixa renda, assim como é prevista na usucapião especial urbana coletiva.
O Estado tem o dever de possibilitar a emancipação da sociedade, com foco especial às pessoas de menor poder aquisitivo. Não pode, portanto, ficar inerte diante de tantos imóveis sem cumprir com sua função social. A usucapião desses bens, apresenta-se, portanto, como ferramenta relevante para garantia de uma vida digna.
REFERÊNCIAS
BARROSO, Luís Roberto. Curso De Direito Constitucional Contemporâneo: Os Conceitos Fundamentais e a Construção Do Novo Modelo. São Paulo: Saraiva, 2013.
BRASIL, Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
BRASIL, Planalto. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.
BRASIL, Planalto. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.
FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais I. Salvador: Ed. JusPodlvm, 2017.
FIUZA, César. Princípio da dignidade humana não justifica usucapião de bens públicos. Revista Consultor Jurídico. ISSN 1809-2829. 23 de fevereiro de 2015. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2015-fev-23/direito-civil-atual-principio-dignidade-humana-nao-permite-usucapiao-bem-publico> Acessado em: 08/08/2019.
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. 2ª ed. São Paulo : Saraiva Educação, 2018.
RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de usucapião. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015.
SARMENTO, Daniel. Os princípios constitucionais da liberdade e da autonomia privada. Boletim Cientifico da Escola Superior do Ministério Público da União. ISSN 1676-4781, a. 4- nº.14, p. 167-217 – jan./mar. 2005. Disponível em <http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/boletim-cientifico-n.-14-2013-janeiro-marco-de-2005/os-principios-constitucionais-da-liberdade-e-da-autonomia-privada> Acessado em: 16.09.2017.
TARTUCE, Flávio Manual de direito civil: volume único I. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016.
TARTUCE, Flávio. A função social da posse e da propriedade e o direito civil constitucional. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 10, nº. 900, 20 dez. 2005. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/7719/a-funcao-social-da-posse-e-da-propriedade-e-o-direito-civil-constitucional> Acesso em: 10.08.2019.
Como citar este texto (NBR 6023:2018 ABNT)
BORDALO,Rafaela. (Im)possibilidade da usucapião de bens públicos sem função social. Disponível em: https://revistadifatto.com.br/artigos/impossibilidade-da-usucapiao-de-bens-publicos-sem-funcao-social/. Acesso em: 01/02/2026.